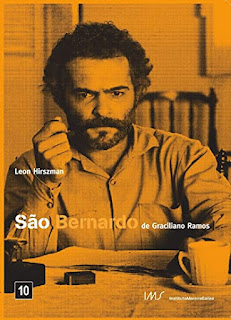Acusado pela morte de uma criança, Buba Ritter (Larry Drake), um homem com deficiência intelectual, é assassinado por quatro cidadãos em uma cidadezinha na zona rural dos Estados Unidos. Tempo depois, eles são perseguidos, um a um, e mortos por alguém misterioso. Acreditam que o espírito de Buba se apossou de um espantalho para cometer os crimes.
Marcou minha infância esse telefilme de terror com clima de investigação e trama policial, com muito mistério no ar que ronda os personagens perseguidos por um possível espantalho assassino (nunca fica claro, tudo é subentendido, e se prepare para o grande desfecho - mesmo sendo filme de terror, traz poesia e leveza). Ingrediente vital para o bom andamento da história é a locação, nas paisagens de campo, com milharal, tratores, corvos e um sol danado, que representa bem o sul dos Estados Unidos (foi rodado na Califórnia). Quem interpreta Buba é Larry Drake, que ficou famoso em papéis de vilão, como o inescrupuloso mafioso Durant, de “Darkman: Vingança sem rosto” (1990), e o filme para a TV tem participações de veteranos premiados, como Charles Durning (o policial líder do bando que assassina Buba) e Jocelyn Brando, irmã mais velha de Marlon Brando (de “Os corruptos” e “Caçada humana”), na pele da mãe de Buba.
Ganha edição caprichada no box “Sessão da meia-noite: Espantalhos”, com outras duas fitas, “A maldição do espantalho” (1988, de William Wesley) e “A noite do espantalho” (1995, de Jeff Burr). É o melhor exemplar dessa caixa que homenageia filmes independentes de terror das antigas sessões da meia-noite, não exibidos nos cinemas. E se pararmos para pensar, não há muitos longas com espantalho assassino (é um tema raro, que poderia ser melhor explorado no cinema).
A vingança do espantalho (Dark night of the scarecrow). EUA, 1981, 97 minutos. Terror. Colorido. Dirigido por Frank de Felitta. Distribuição: Obras-primas do terror